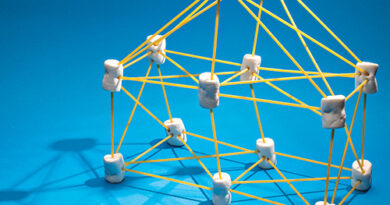A cidade é currículo
A relação da criança com o lugar onde vive mudou. Como atualizar as noções de pertencimento dos jovens deste século?
Texto Lourdes Atié

Hoje ouvir aquela frase da minha infância é praticamente impossível: “- Vá para a rua brincar, menina!”. Quem ainda criança brincou na rua sabe do que estou falando. Muitos adultos de hoje cresceram brincando livres pelas ruas do bairro em que residiam. A rua era nosso universo para aprender sobre a vida. Nossos amigos não se limitavam aos que sentavam todos os dias na mesma sala de aula. Tínhamos amigos da escola, da rua, do bairro vizinho, da igreja, do clube. Enfim, nossa vida “rueira” era rica. Ali aprendíamos a fazer amigos, a nos proteger dos brigões, a ser valorizados pelo jogo que sabíamos jogar ou pelas histórias que sabíamos contar, mas também o lugar de aprender com quem sabia mais que nós. Tudo sem separação por idades. Na rua, inventávamos brincadeiras, colaborávamos nas lições da escola, além de ajudar no comércio local. Eu amava, por exemplo, ajudar no armarinho do bairro, vendendo botões e linhas, e no armazém, pesando cereais a granel. Enfim, havia vida nas ruas. Todos se conheciam, os menores eram protegidos, os mais pobres ajudados e, claro, nós entendíamos que nos metíamos demais na vida alheia. Mas o prazer de pertencer a um lugar nos dava uma identidade verdadeira.
O tempo passou. Os parentes já não moram próximos. As famílias diminuíram o número de filhos e os responsáveis pelas crianças passaram a trabalhar mais. As casas ficaram vazias, as moradias diminuíram de tamanho e as crianças passaram a ficar mais tempo no condomínio ou na escola, por serem considerados os únicos lugares seguros e cuidados para crianças e jovens. Resultado: rua sem criança é rua perigosa.
As cidades da contemporaneidade
Mais da metade da população mundial reside em áreas urbanas e, segundo os estudos da OCDE, durante o século XXI, três quintos da população viverão nas cidades, o que nos dá base para afirmar que vivemos em um século urbano. No Brasil, de acordo com o Censo (IBGE), 84% da população mora em áreas urbanas – o que não significa, de forma alguma, qualidade de vida. Ao contrário, as cidades brasileiras, em sua maioria, são perigosas, marcadas por falta segurança pública e acentuam situações de discriminação e exclusão social, econômica, de gênero, étnica, religiosa ou em grupos mais vulneráveis como as crianças, os idosos e pessoas com deficiências. A cidade não é mais o lugar de ficar, reduzindo-se ao lugar de passar.
A cidade que historicamente era polis, lugar de vida coletiva, de civilização e cultura, tornou-se um cenário de diversas crises. Deixou de ser um lugar compartilhado e sistêmico, no qual cada parte se agrega a outra, para ser lugar de espaços definidos por funções e classes sociais diversas. Passou a se constituir por zonas privilegiadas e por zonas periféricas. As cidades ficaram barulhentas e perigosas. Assim, foram perdendo suas características originais.
Em um breve exercício de observação como caminhar pelas cidades brasileiras a pé, sem olhar para o celular, é possível verificar quem ou o quê elas privilegiam. Em termos de mobilidade, os veículos têm a prioridade. Para os pedestres, restam calçadas esburacadas, muitas até inclinadas para favorecer a entrada dos automóveis nas garagens. Os semáforos estão programados para privilegiar os veículos – o que resulta em menos tempo de espera para os carros e pedestres atravessando as ruas correndo. Se nos concentrarmos nos seres humanos, será fácil constatar que a cidade é para o cidadão adulto que tem pressa e está ocupado. Esse é um parâmetro de desenvolvimento.

Onde estão as crianças?
No Brasil, as crianças urbanas são as principais vítimas da segregação socioespacial: elas veem a vida pela janela de algum veículo. Não existem espaços públicos com segurança adequada, nas calçadas, nas praças nem nos jardins. As crianças brasileiras de classe média e alta têm marcada a crescente ausência de autonomia em relação à mobilidade nos meios urbanos. Já as crianças vindas de famílias de baixa renda exploram as ruas e espaços próximos de suas moradias, que se constituem em territórios infantis por onde elas exercem um significativo domínio – porém, somente nesses espaços mapeados, geralmente excludentes.
Se examinarmos o que é oferecido em termos de equipamentos públicos especialmente planejados para os pequenos, podemos concluir que são espaços que cerceiam e isolam a criança. Tais equipamentos estão em sua maioria nos shopping centers. Nas ruas, há alguns parquinhos infantis, planejados por adultos que privilegiam uma segurança que mais reprime do que estimula a livre expressão.
Sem esse espaço físico democrático que a cidade deveria representar, as crianças e jovens passaram a ficar mais tempo na escola. Essa, que era apenas um espaço de convivência entre vários outros, passou a ser o único. Essa questão se reflete também nas amizades, que acabam sendo definidas pelo espaço escolar, e os amigos acabam sendo sempre os mesmos. Assim, a vida ficou mais limitada no campo das experiências.
Com as crianças e jovens sem acesso às ruas, a escola passou a oferecer tudo que no passado era oferecido a demais instituições. Acabaram-se os deslocamentos, mudanças de espaços e a própria vida na rua. Restou a vida na escola, lugar que subiu o muro, aumentou a segurança e reforçou a fiscalização dos espaços coletivos. Assim, a instituição educativa ampliou seu controle, expandiu sua oferta, tornando a vida escolar estressante, cheia de obrigações e tarefas, sobrecarregando os estudantes, sob o pretexto de tranquilizar as famílias. Todos perderam.
No entanto, uma cidade educadora, que respeita todos os seus cidadãos, independente das suas idades, não precisa ter espaços infantis delimitados. Não é necessário que se criem espaços especiais para elas, pensados pela expectativa e perspectiva do adulto. As crianças têm o direito de ter suas próprias experiências em ambientes comuns a todos. Portanto, uma cidade sem crianças nas ruas é uma cidade pior.
A cidade pode ser educadora
Os estudantes vivem imersos em sociedade e precisam entendê-la por toda a vida. Para isso, é preciso vivê-la para compreender que a cidade também educa e que pode ser o lugar de oportunidades. Por suas ruas, circulam modos de comportamento, valores cívicos e morais, estilos e modos de vida, práticas culturais elaboradas. Por isso, é uma grande fornecedora de conteúdos curriculares.
Mas engana-se quem acha que basta fazer da cidade um recurso educativo, promovendo passeios ou visitas aos espaços culturais. A cidade não é apenas um recurso: ela é identificada em muitos países como um uma proposta pedagógica, em que cada agente (empresas, espaços culturais, associações, escolas, famílias) assume sua responsabilidade educativa, no contexto de um projeto coletivo. Esta é a proposta das Cidades Educadoras (www.edcities.org), uma associação internacional que abrange 478 cidades, de 36 países de todos os continentes. Dezesseis cidades compõem a Rede Brasileira. A ideia surgiu em Barcelona, com a conquista da democracia municipal, em 1979, ano em que se aprovou o Estatuto de Autonomia da Catalunha. A ideia inicial era criar um ambiente urbano de educação que respeitasse o passado, que projetasse a cidade para o futuro, que envolvesse as pessoas e que as fizesse sentir orgulhosas de pertencerem a esse lugar. Em 1994, foi criada a Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), durante o III Congresso das Cidades Educadoras, em Bolonha, Itália. São 25 anos de um movimento mundial em busca da construção da cidade que educa, aquela que pode ser e deve ser simultaneamente marco e agente educador. Qualquer cidade do mundo pode se candidatar a ser uma Cidade Educadora, desde que atenda aos pré-requisitos estabelecidos pela AICE.
O que podemos concluir brevemente
A escola não pode responder indiscriminadamente por todas as demandas sociais, porque quem tenta dar conta de tudo, não consegue dar conta de nada! Educação não se refere apenas à escola, pois o que acontece no seu interior é a educação escolar. A família educa e cidade também.
Se pensamos na cidade, é fundamental restituir às crianças uma autonomia que lhes permita sair de casa sozinhas, desfrutar da comunidade, encontrar amigos e escolher com eles do que brincar. Erramos quando fazemos do contrário. Para justificar nosso excessivo cuidado, em função dos perigos das cidades, saímos das ruas e tiramos nossas crianças delas. Mas o movimento precisa ser o oposto. Ao invés de nos escondermos em casa, de ampliar ao tempo das crianças na escola, precisamos ganhar as ruas e assim tornar as cidades mais amigáveis.
Devemos lutar para que os espaços públicos sejam realmente educativos e que funcionem de verdade. A cidade é lugar de aprender e não apenas a escola. Porém, a sintonia para a construção de uma cidade educadora exige que a escola seja uma importante aliada.
Para construir uma cidade em que todos se comprometam com a educação, a escola pode dar um importante passo, assumindo tal desafio como uma proposta educativa, inserindo-a no projeto político pedagógico (PPP), e os professores atuando no sentido de trazer os pais para essa causa. O resto fica por conta das crianças, que saberão viver essa experiência.
É nesta perspectiva que se torna necessário um novo contrato socioeducativo, em que a responsabilidade de educar é compartilhada por um conjunto de atores sociais de instâncias diversificadas, não ficando apenas nas mãos dos educadores profissionais. É preciso reconhecer que a escola cumpriu ao longo do século XX um importantíssimo papel social e que, hoje, torna-se essencial evoluir no sentido de uma maior responsabilidade da sociedade, sem, contudo, diminuir o valor da escola.
Lourdes Atie
é socióloga com pós-graduação em Educação e diretora da Ideias Futuras, consultoria educacional, com foco na formação de professores. Coordena a equipe de selecionadores do Prêmio VIVALEITURA, criado pelo MEC e pelo antigo MinC, e é consultora pedagógica da FDE, no programa Cultura é Currículo, na TV Cultura.