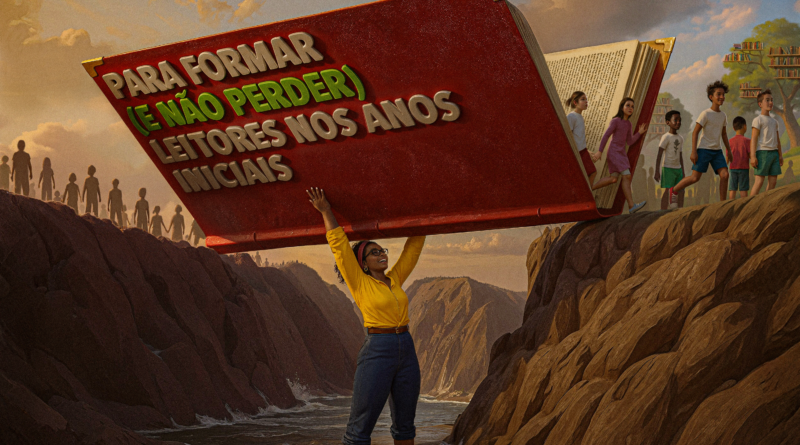Para Formar (e não perder) Leitores nos Anos Iniciais
O verbo ler não suporta o imperativo. Aversão que partilha com alguns outros: o verbo “amar”… o verbo “sonhar”… Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá: “Me ame! Sonhe! Leia! Leia logo, que diabo, estou mandando você ler!”
{Daniel Pennac}
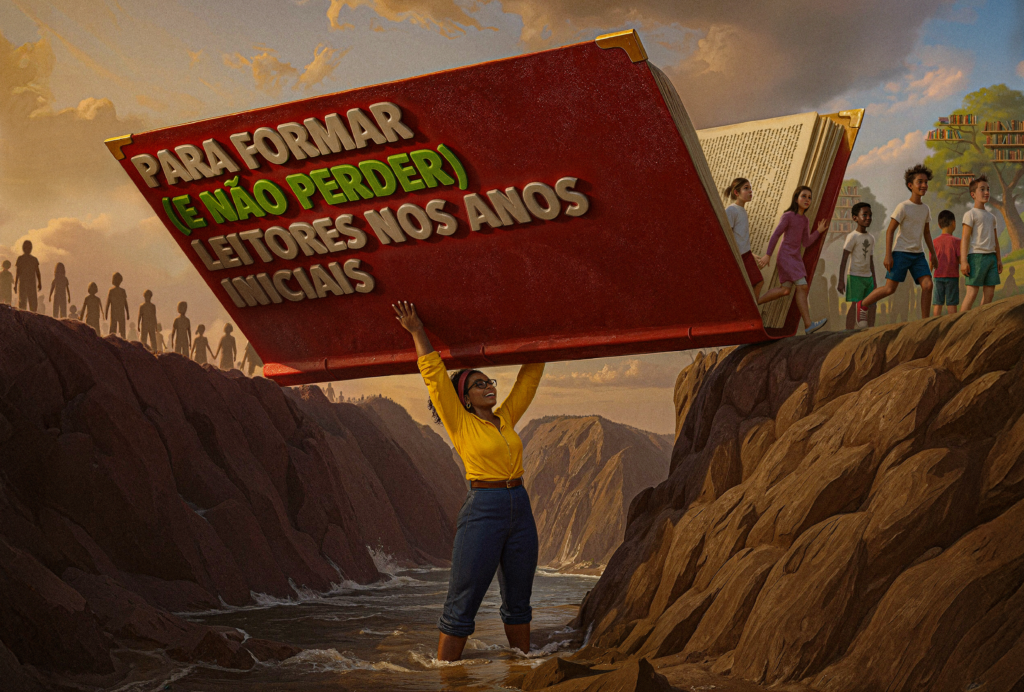
Texto: Cristiane Cagnoto Mori
1- Cadê o leitor que estava aqui?
Quando se acompanha uma roda de leitura na Educação Infantil, o mais recorrente é encontrar crianças entregues à escuta, encantadas com aquele texto que ganha movimento e som por meio do corpo e da voz da professora. Os bebês e as crianças (bem) pequenas se entregam à leitura em voz alta como mais um momento de brincadeira e, do alto da seriedade com que a encaram, experienciam a leitura com o corpo todo, razão pela qual, muitas vezes, movimentam-se, exploram o ambiente e se expressam pela linguagem oral e corporal. E, como em outros contextos, essas crianças aprendem.
Nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, as crianças aguardam ansiosas pelo momento da leitura, escolhem livros e, quando podem, trazem de suas casas livros para que a professora os leia. Quando a escola fomenta comportamentos leitores desde cedo, elas reconhecem autores, ilustradores, editoras; manifestam suas preferências e falam sobre os livros. O Ciclo da Alfabetização costuma ser o período em que os estudantes desejam ler por si mesmos, e é comum vê-los “decifrando” o texto do livro que carregam no colo.
Porém, gradativamente, é como se esses pequenos leitores se perdessem no caminho. À medida que avançam os anos escolares, têm início as queixas dos professores de que seus estudantes “não gostam de ler”, e, não raro, no final dos Anos Iniciais, é comum que o número de leitores genuinamente interessados pelos livros seja menor relativamente àqueles que já os veem como (mais) uma atividade obrigatória e escolarizada.
Cadê o leitor que estava aqui? Onde perdemos aquelas crianças que se divertiam com a leitura das parlendas, dos poemas, das narrativas? Que se alegravam e se emocionavam com as “histórias” lidas e relidas? O que muda em tão pouco tempo?
2- Tinha um professor no meio do caminho
Ao analisar os anos da Educação Infantil e do Ciclo de Alfabetização, há dois elementos comuns que se mantêm: um estudante que não lê e um professor que lê para ele e com ele. Esse cenário em que um leitor mais experiente compartilha a leitura com uma criança que não sabe ler ou não o faz fluentemente tende a rarear, a partir do momento em que ela (supostamente) aprende a ler. A propósito, valem as palavras dos pais de um garoto recém-alfabetizado, narradas por Pennac:
Nós nos deixamos ficar cegos por esse entusiasmo? Acreditamos que bastaria a uma criança o prazer das palavras para dominar os livros? Pensamos que a aprendizagem da leitura iria por si mesma, como vão a marcha vertical ou a linguagem – resumindo, um outro privilégio da nossa espécie? O que quer que seja, é o momento que escolhemos para pôr fim às leituras noturnas.
A escola ensinava a ler, ele punha paixão nisso, era uma virada na vida dele, uma nova autonomia […].
Ele estava grande, agora, podia ler sozinho, caminhar sozinho no território dos signos. (1993, p. 45)
Tal como ocorre ao garoto do romance de Pennac, grande parte de nossos estudantes desvincula-se da leitura e do prazer que sentia, à medida que avança em seu processo de escolarização. Assim como é plausível afirmar que, ao final do 2º ano, a maioria dos estudantes encontra-se alfabetizada, é igualmente necessário apontar que a condição de alfabetizados não consigna a eles a mesma experiência leitora que tinham, quando integravam as práticas de compartilhamento da leitura.
Quando lê, o professor oferece uma experiência leitora. Além de fluente e expressiva, a leitura ocorre no aconchego desse mediador e dos colegas, atravessada por intimidade, acolhimento e afeto. Os sentidos podem ser construídos porque há um leitor que empresta sua voz e seu corpo ao texto, e podem ser reconstruídos e ressignificados porque a compreensão individual é constantemente interpelada pelas compreensões dos outros. Por fim, as sensações e os sentimentos convocados pela leitura de uma (boa) obra literária têm abrigo nessa experiência; o professor-mediador (e os colegas) dá continência e contorno ao medo, à raiva, à tristeza, à indignação, ao êxtase, ao espanto e a quais forem as reações despertadas pela leitura.
Não é trivial garantir que essa experiência leitora ocorra individualmente; na verdade, não é possível que recém-leitores a alcancem, embrenhados que estão no processo de decodificação do texto escrito. Por essa razão, parece-nos inegociável que, na escola, o professor mantenha as práticas de leitura em voz alta e de leitura compartilhada, mesmo depois que seus estudantes tenham aprendido a ler.
3- E no meio do caminho constrói-se uma ponte
Especialmente quando os estudantes são leitores recentes, mas também nos casos em que já leem com fluência, é compulsório que o professor medeie a leitura. Essa mediação permitirá que o ambiente escolar se configure como uma ponte entre os estudantes, o texto a ser lido e suas condições de produção. Segundo Colomer, “compartilhar a leitura significa socializá-la, ou seja, estabelecer um caminho a partir da recepção individual até a recepção no sentido de uma comunidade cultural que a interpreta e avalia. A escola é o contexto de relação onde se constrói essa ponte e se dá aos estudantes a oportunidade de atravessá-la”. (Colomer, 2007, p. 147)
É a mediação do professor que permitirá que o processo de construção de sentidos de cada leitor possa interpelar e ser interpelado pelos sentidos construídos pelos outros estudantes, de modo que os sentidos de um texto possam ser ressignificados e ampliados. Mas, para que essa mediação alcance seu potencial formador (de leitores), é necessário que o professor domine o processamento da leitura em seus diferentes aspectos, sobretudo os (meta)cognitivos, linguísticos e discursivos. Esse domínio permitirá ao mediador da leitura planejar e executar as intervenções adequadas, em seus momentos estruturantes, ou seja, do antes, do durante e do depois da leitura.

Preparando-se para atravessar
{ antes da leitura }
O primeiro aspecto a ser considerado, antes da leitura, é a motivação. Conforme afirma Solé (1998), para que se interessem pela leitura, é preciso, por um lado, que os estudantes se sintam capazes de ler, seja porque dispõem dos recursos para isso, seja porque sabem que podem contar com o apoio do professor. Por outro lado, a própria situação de leitura tem de ser instigante, desafiar os estudantes para algo novo e/ou interessante. Ainda que saibamos que toda leitura realizada na escola esteja inexoravelmente escolarizada, emprestemos, aqui, uma expressão cunhada por Soares (2006) e defendamos que o professor se ocupe de propor uma escolarização adequada da leitura, que será tanto mais alcançada quanto mais próxima a situação (escolar) de leitura for de seus usos reais e autênticos.
Um bom termômetro para planejar situações de leitura que se aproximem de seus usos sociais reside nos propósitos leitores, ou seja, nos objetivos que o leitor busca alcançar por meio do texto que lerá. Trata-se, então, de emular práticas sociais cujas demandas se resolvem por meio da leitura, por exemplo: buscar, na grade de programação, o cinema mais próximo em que o filme desejado esteja sendo exibido; reunir informações, de diferentes verbetes enciclopédicos, para organizar um seminário; informar-se sobre o nascimento do filhote de uma girafa em uma notícia; encantar-se com a leitura de um livro etc.
De acordo com Kleiman (1992), o nível de retenção de informações sobre uma leitura está intrinsecamente ligado aos objetivos que a guiaram; portanto, uma leitura sem um propósito definido tende a resultar em um baixo nível de compreensão. Assim, tanto para garantir a motivação dos estudantes quanto para amplificar as possibilidades de compreensão, é fundamental que o professor pactue com eles as razões pelas quais lerão e o que pretendem alcançar depois da leitura.
O adequado ensino da leitura e, consequentemente, a formação do leitor dependem, também, das características dos textos ofertados, e isso vale para os gêneros discursivos dos variados campos de atuação (vida cotidiana, vida pública, práticas de estudo e pesquisa), e, de forma inegociável, para os gêneros literários. Assim, os primeiros passos da mediação da leitura concretizam-se na escolha de um exemplar que preze pela qualidade do texto, tanto em seus aspectos verbais quanto naqueles multissemióticos, ligados às diferentes linguagens empregadas. No caso das obras literárias, têm importância o projeto gráfico-editorial, as ilustrações, o enredo, a densidade das personagens e, sobretudo, os recursos linguístico-semióticos que, tecendo a literariedade, instiguem o leitor e se abram a múltiplas compreensões. Selecionado o texto de leitura, cabe ao mediador conhecê-lo e estudá-lo, de modo a planejar as intervenções que fará.
Parte dessas intervenções deve incidir sobre os expedientes de que se lançará mão para acionar os conhecimentos prévios do leitor, os quais incluem conhecimentos linguísticos, textuais-discursivos e de mundo. É importante considerar que não se trata obrigatoriamente de uma ativação; em muitos casos, os estudantes precisam do professor para constituir um corpo de conhecimentos necessários para se engajar em uma leitura compreensiva. Para isso, é importante que haja um diálogo prévio, composto tanto por perguntas que ativem o que os estudantes já sabem quanto por comentários que os apoiem a lidar com o gênero discursivo (incluindo a textualidade e o vocabulário) e a temática do texto que será lido. Ainda antes da leitura, recomendam-se aquelas perguntas que levam o leitor a antecipar propriedades e conteúdos do texto, ou seja, a formular hipóteses sobre o que esperam encontrar, seja em relação ao assunto, seja em relação ao gênero.
Tão importante quanto acionar conhecimentos prévios e incentivar a formulação de hipóteses é considerar as participações dos estudantes no momento da leitura propriamente dita.
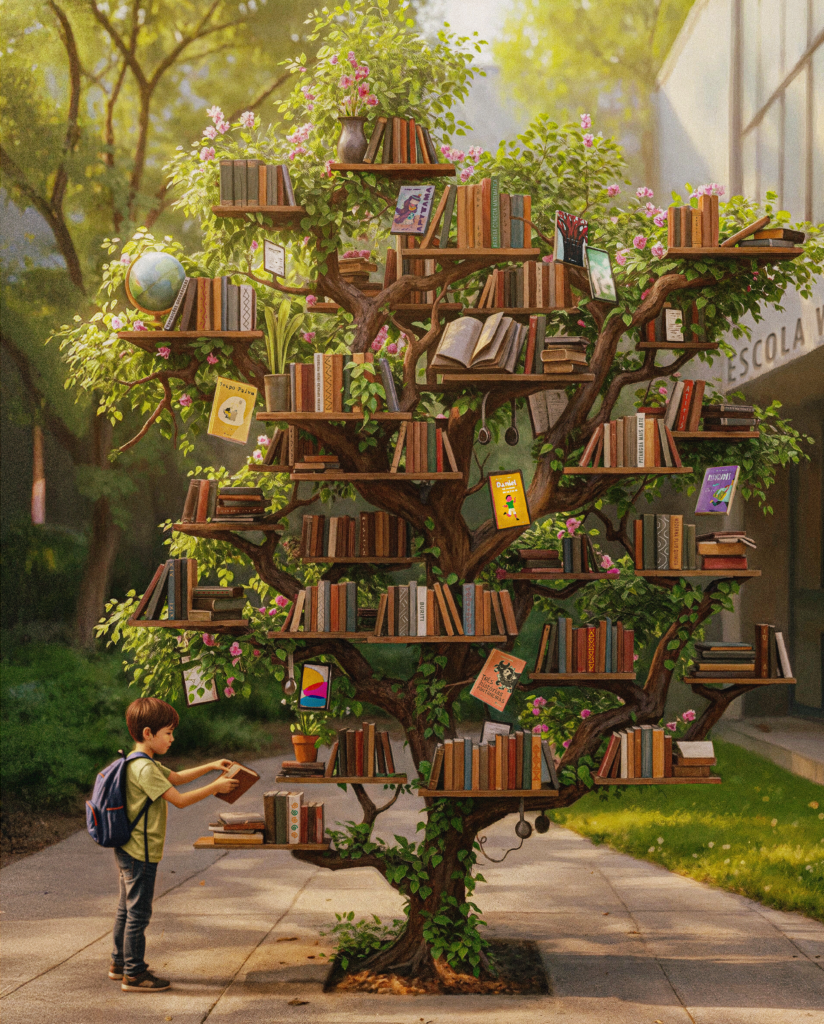
Atravessando a ponte
{ durante a leitura }
Antes de tudo, cabe ponderar que as intervenções que visam à construção da compreensão leitora ocorrem durante a leitura, quando o professor propõe uma leitura colaborativa, modalidade didática na qual ele interrompe a leitura em momentos-chave, previamente selecionados, para propor perguntas que explicitam as estratégias leitoras que está empregando, visando ensiná-las.
De acordo com Solé (1988), uma das tarefas fundamentais do estudante durante a leitura é a de resumir o texto. Para tanto, é fundamental que o professor recupere o objetivo da leitura e provoque os estudantes por meio de questionamentos que os levem a destacar as ideias centrais de cada parte do texto, de modo a ir elaborando sínteses parciais, as quais, ao final da leitura, comporão uma compreensão global. Ainda no escopo da ação de resumir, perguntas que incidam sobre a ordem dos acontecimentos (em uma narrativa) ou sobre os argumentos empregados (em textos argumentativos) são importantes.
O professor deve instigar o diálogo, propondo questões provocativas que levem os estudantes a construir sentidos que “escondidos” entre ou por trás das linhas, inferindo-os, bem como incentivar a inferência de palavras desconhecidas, por meio da retomada da significação construída até aquele momento e da releitura do trecho em que a palavra surgiu.
Por fim, é mister que o professor solicite a elaboração de hipóteses a respeito da continuidade do texto, confrontando as descobertas feitas àquelas antecipações realizadas antes da leitura. Esse movimento de formular, checar e reformular hipóteses garante, de acordo com Kleiman (1992), que o leitor autoavalie a compreensão do que está lendo, mantendo-o atento ao texto.
O que vale é o caminho
{ depois da leitura }
Quando a leitura colaborativa é planejada e realizada adequadamente, o momento posterior à leitura pode (deve) ser especialmente dedicado a uma apreciação sobre o texto, ou seja, àquele diálogo em que os sentidos são reconstruídos e as opiniões fundamentadas podem ser expressas.
Naturalmente, alguns movimentos didáticos do professor são requeridos, a fim de apoiar os estudantes, e, entre eles, destacam-se:
a} a retomada do objetivo de leitura e a identificação da ideia central do texto;
b} a articulação de outros elementos do texto à ideia central, buscando uma compreensão global;
c} a problematização do título, julgando sua adequação e sua motivação.
As hipóteses iniciais devem ser retomadas e confrontadas com as descobertas feitas durante a leitura. Para tanto, vale recuperar as sínteses parciais que foram elaboradas e, por meio de boas perguntas, incentivar os estudantes a indicar as informações mais relevantes, agrupando-as.
Finalmente, deve-se provocar os estudantes a falar sobre o texto, seja na direção de apreciá-lo estética e afetivamente (Rojo, 2009), especialmente no caso dos gêneros literários, seja na direção de concordar ou discordar de seus posicionamentos, capacidade leitora que pode ser exercida em relação aos textos literários, mas que é particularmente convocada nos gêneros que expressam fatos, acontecimentos e, sobretudo, pontos de vista (reportagens, artigos de opinião, resenhas, anúncios publicitários, artigos científicos etc.). Cabe lembrar que a elaboração de apreciações depende da compreensão do texto; por isso, a expressão de opiniões e posicionamentos dos estudantes somente deve ocorrer após essa compreensão ter sido suficientemente construída.
Aonde se chega no final
Formar leitores é uma tarefa complexa, multifacetada e, sobretudo, processual. Exige curadoria de textos de alta qualidade, um trabalho didático intencionalmente planejado e, sobretudo, um professor formado para ser um mediador de leitura.
Ainda que haja expedientes didáticos fundamentais a ser empregados antes, durante e depois da leitura, encerremos essas reflexões lembrando que: “O homem (…) escreve livros porque se sabe mortal. (…) lê porque se sabe só. (…) nossas razões para ler são tão estranhas quanto nossas razões para viver. E a ninguém é dado o poder para pedir contas dessa intimidade” (Pennac, 1993, p. 167). Por isso, garantamos aos nossos estudantes o direito de calar.
Cristiane Cagnoto Mori
é professora do curso de Pedagogia no Instituto Singularidades, instituição onde coordena a Formação Continuada.
Para Saber Mais
- KLEIMAN, Angela. Oficina de leitura: teoria & prática. Campinas/SP: Pontes, 1992.
- PENNAC, Daniel. Como um romance. Trad. Leny Werneck. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.
- SOARES, Magda. A escolarização da literatura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia Versiani (orgs.) A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. (Coleção Linguagem e educação).
- SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Trad. Cláudia Schilling. 6 ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
- ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.